exil.io
I’m demanding the Index of Islands, which is the final piece in book time. Ah, because there's an index too, and even a book? asked Chérubin. An Index listing all the Islands that you don't see stuck out there in the sea around us and that are shielding your head.
I.
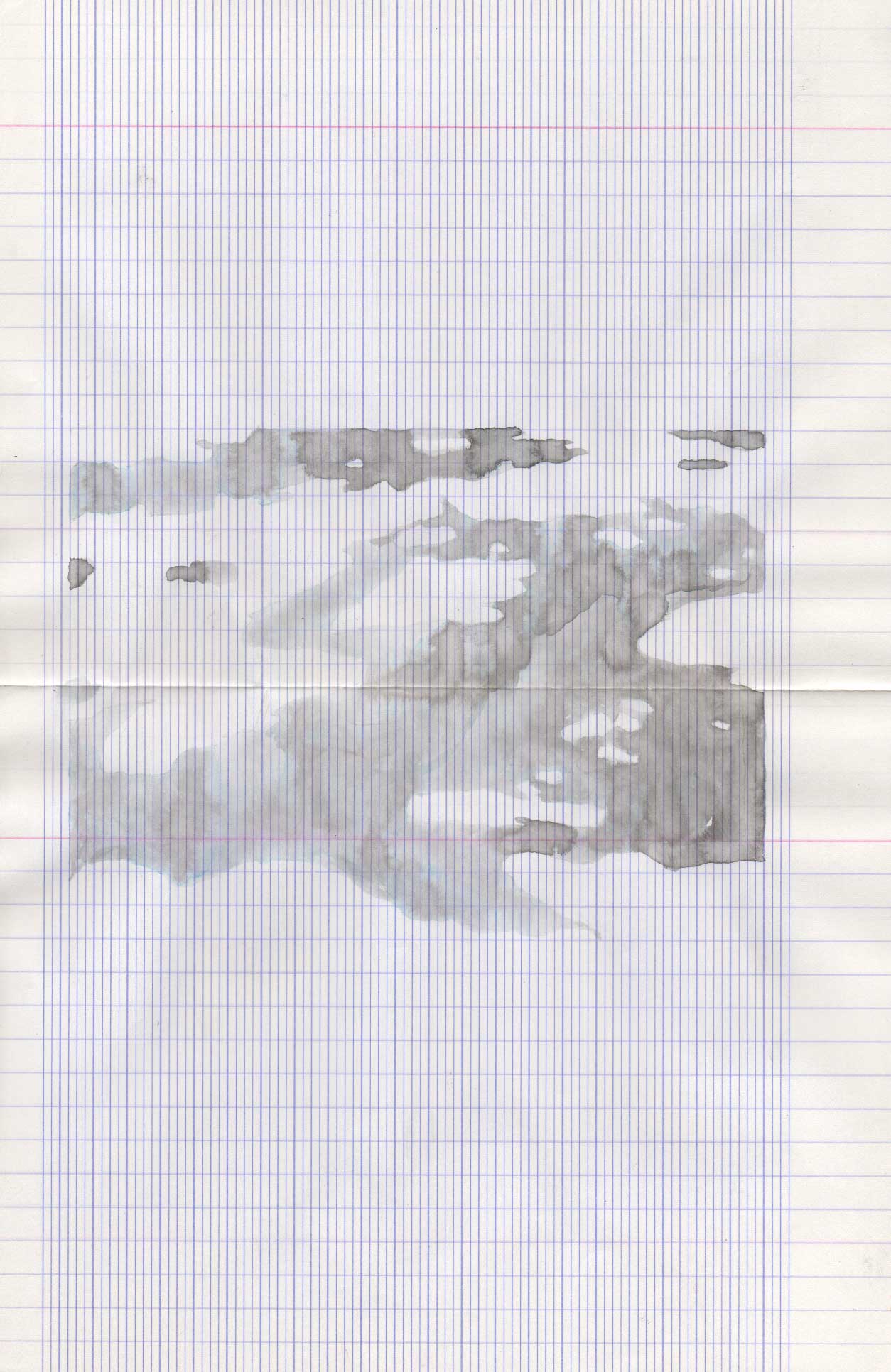
Arquipélago I (história trágico-marítima), Pedro Zylbersztajn
Considero que sempre fui uma pessoa atlântica. Apesar de nunca ter expressado essa constatação com muita assertividade desde que fui atravessado por ela há poucos anos, e tampouco articulado com qualquer clareza o que isso quer dizer de uma perspectiva psicológica/
Mas longe de tentar estabelecer perfis de relação individuais, em uma espécie de hidro-horóscopo, interessa-me aqui levantar que os oceanos que traçam nossos contornos estabelecem uma comunalidade de horizontes, relações e memórias. São os palcos históricos nos quais se interpretaram os Épicos que configuraram o mundo contemporâneo, onde se travaram opressões e resistências que reverberam no tempo presente. Como a maior parte das pessoas não indígenas nascidas nesse país, foi o Atlântico que os meus ascendentes cruzaram, sob circunstâncias tão diversas quanto suas expectativas, antes de chegarem nos Brasis colônia, império, república, esses todos também trazidos de navio. Foi no espaço negativo, no não lugar da água, que se estabeleceram as disputas, os trânsitos e as linguagens do colonialismo, imaginado em terras europeias e praticado no além-mar. Algum núcleo de identidade afro-euro-americana se projeta na tapeçaria desenhada pelos fios das rotas das caravelas. O Triângulo Atlântico, com suas infinitas pontas, conecta em seus pesados vértices regiões tão distintas quanto a Holanda e as Bahamas, Angola e Louisiana, Bahia e o Cabo Ocidental.
Quando penso em um território em que mar e terra se confundem, criando uma cultura flutuante, navegante, composta a partir de tantos fragmentos trazidos pelas correntes, penso nas Antilhas, esse arquipélago-modelo da existência atlântica, que popula minha mente a partir dos versos pincelados de Derek Walcott, da poética da relação de Glissant, da tidaletics de Kamau Brathewaite, das frases cortantes de Jamaica Kincaid. Esse texto não é, porém, sobre o Atlântico, nem sobre algo que tenha ocorrido diretamente em suas águas. É sobre sucessivos e violentos acontecimentos que se passam no Índico, para mim o mais longínquo e imaginário dos oceanos. Escapam-me as referências que poderiam centralizar o meu pensamento nesse outro pedaço do mundo, certamente superfície de uma tecelagem igualmente densa. Portanto, ao me deparar com esses acontecimentos, a partir de um sufixo de endereço na internet tão familiar quanto inconspícuo, tive que me perguntar algumas vezes por que me interessava pesquisá-los e, sobretudo, como contá-los e analisá-los da minha distanciada posição. Penso, agora, que essa história é muito significativa em elencar feridas abertas do colonialismo e suas importações para tecnologias contemporâneas, e que, apesar de suas muitas especificidades locais, modela com extrema clareza um padrão histórico global de deportações, explorações e ocultações. Pois assim encerro esse preâmbulo pessoal-oceânico, indicando que esse texto não trata de buscar semelhanças ou diferenças entre os contextos coloniais e pós-coloniais do Atlântico e do Índico, mas sim de identificar os fluxos inaugurados pelo trânsito marítimo colonial, esses que sempre se cruzaram e não deixam de se cruzar, ainda que por outras vias, no presente. Como James Bridle coloca em um pequeno artigo que teve grande importância para esse ensaio, “os cabos submarinos e antenas parabólicas que carregam os bits e bytes de hoje ainda traçam rotas de impérios nacionais”.1 Da mesma forma, outras dimensões de um “turvo passado colonial”2 revelam-se no nosso cotidiano digital, se nos dispusermos a mergulhar abaixo da superfície revolta.
II.
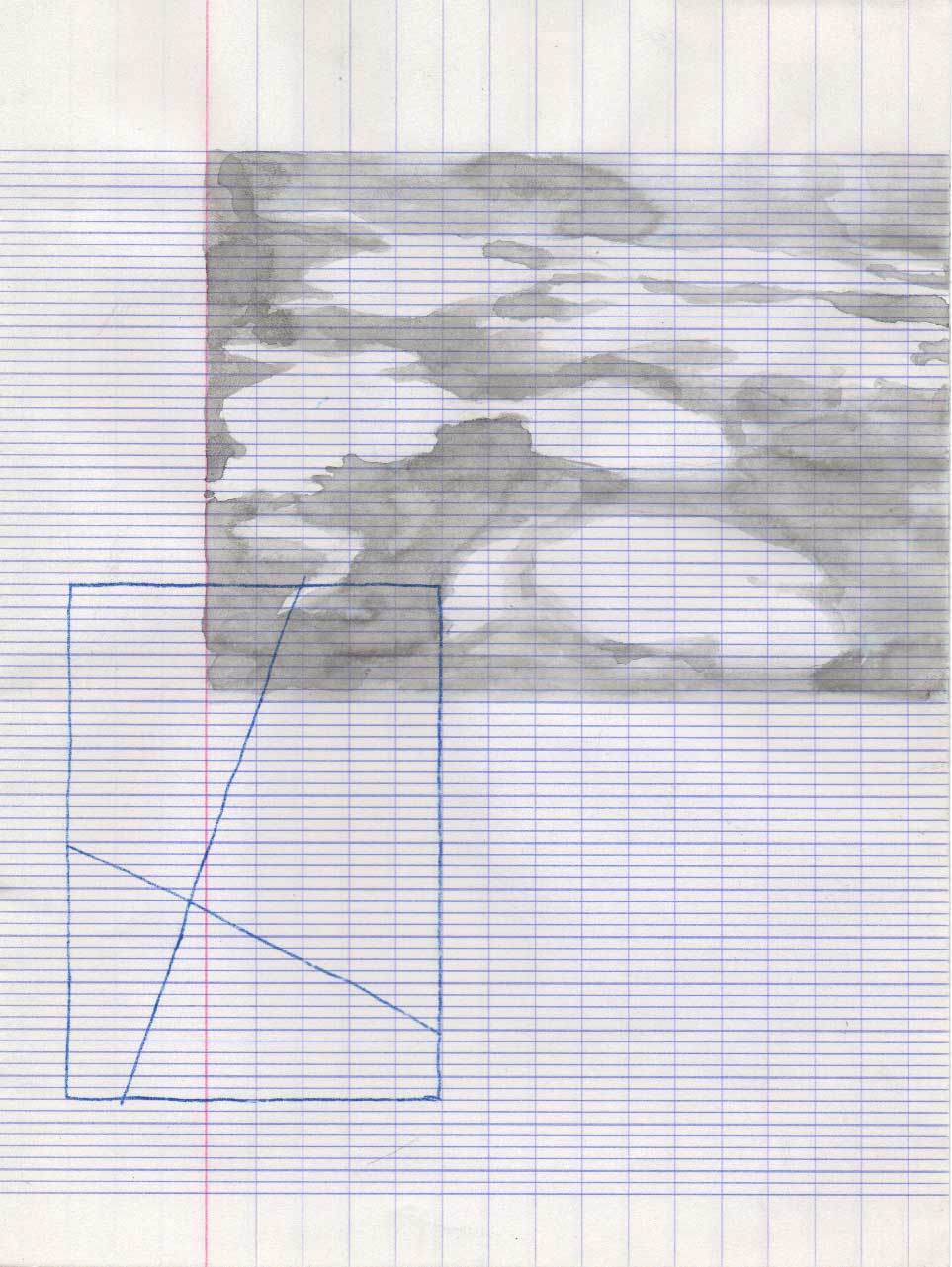
Arquipélago II (rotas e fluxos), Pedro Zylbersztajn
Em abril de 2015 um desenvolvedor brasileiro de 19 anos chamado Matheus Valadares registrou um domínio na internet. Neste endereço, cujo custo na época deve ter girado em torno de U$30 por um ano de uso, disponibilizou um jogo simples, no qual o usuário toma a forma de uma bactéria em uma placa de Petri, onde deve navegar em busca de alimento e de outras bactérias menores, controladas por outros usuários, que devem ser fagocitadas, enquanto desvia dos usuários de maior sucesso e consequente tamanho, evitando para si o fim que procura infligir a outros. Uma leve e viciante abstração da lógica da sobrevivência do mais forte, como descrito por um jornalista especializado,3 fez sucesso a ponto de ser o jogo mais buscado no Google no ano de 2015. Desenvolvedores ao redor do mundo publicaram novos e variados jogos inspirados por suas principais características. Seu URL, agar.io, se tornou tão reconhecível que esses novos produtos, que tentavam em alguma medida emular seus atributos e seu sucesso, buscaram se aproximar também nominalmente, alocando-se em endereços como slither.io, diep.io, paper.io, e assim por diante. O novo gênero, inaugurado pelo jogo brasileiro, passou, portanto, a ser conhecido pelo sufixo que parecia sempre acompanhar seus exemplares: .io games.
Enquanto Valadares foi pioneiro no uso dessas duas letras no universo dos jogos on-line, o uso dessa peculiar terminação já se tornava corriqueiro. A partir da primeira metade da década de 2010, muitos serviços on-line, projetos open-source, startups deslumbradas com o próprio potencial disruptivo e sites orientados para o mundo da tecnologia em geral, passaram a adotar .io como seu domínio de preferência. A título de exemplo, duas das maiores plataformas on-line utilizadas para o compartilhamento de códigos-fonte pela comunidade global de programadores e desenvolvedores, Github e Codepen, têm como endereço github.io e codepen.io, respectivamente. O endereço brasil.io, por sua vez, é ocupado por um projeto voluntário de liberação e organização de bancos de dados públicos relativos ao governo do país. Há algumas razões por trás do crescente sucesso do sufixo. Por ser menos procurado do que o ubíquo .com, é mais provável que os endereços desejados estejam disponíveis. Sua economia de caracteres, em um contexto de velocidade e disputa de atenção, também se apresenta como uma vantagem. Mas, sobretudo, as letras remetem o leitor informado sobre o universo da programação a I/O, sigla de input/output, par semântico fundamental na linguagem das interfaces e dos algoritmos. Aos olhos do público desejado, essa combinação de fatores oferece ao empreendedor on-line uma pátina de contemporaneidade e perspicácia tecnológica. Não à toa, hoje o preço-base de um domínio .io se encontra ao redor de U$90/ano.
III.
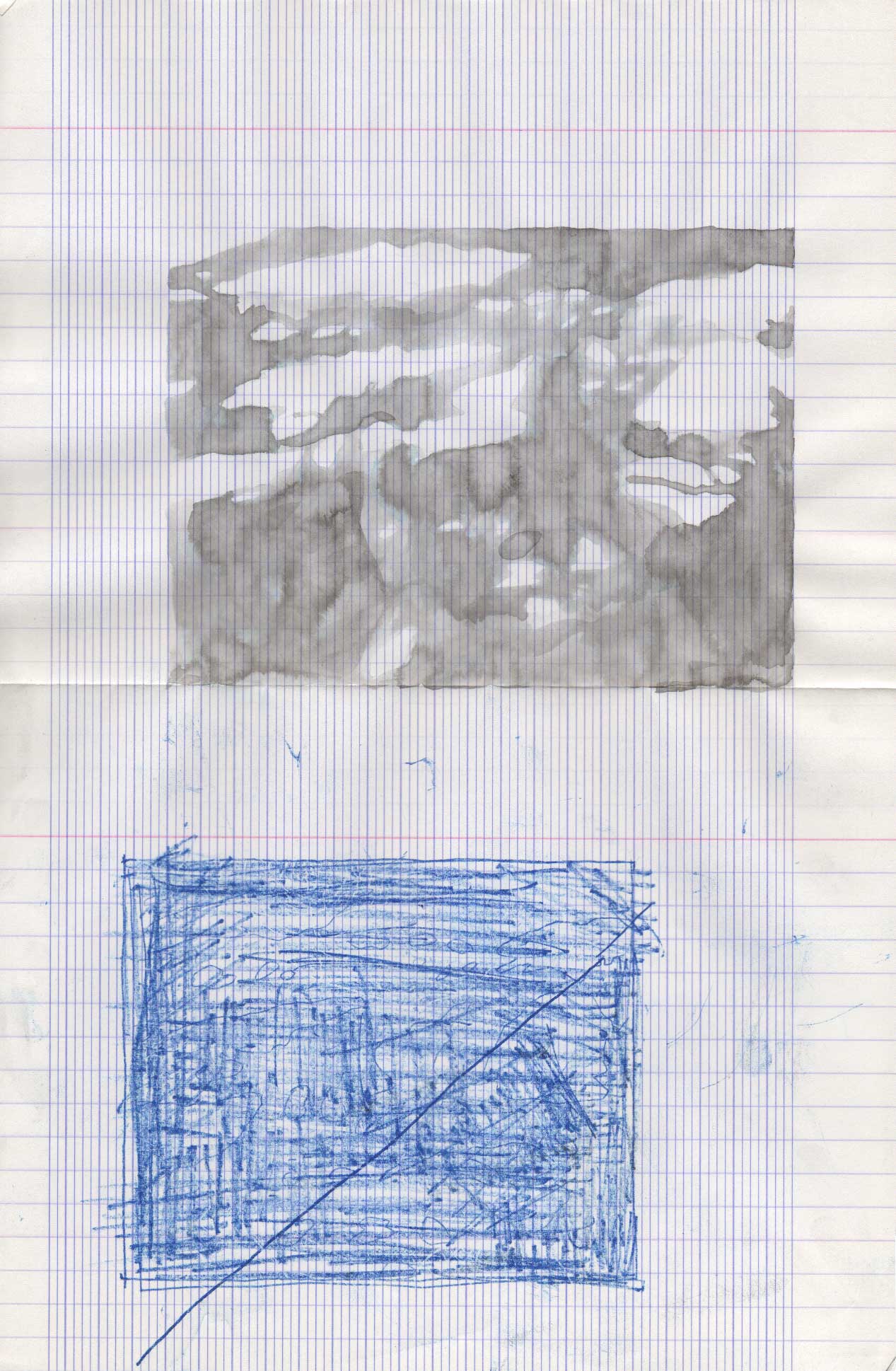
Arquipélago III (explorer), Pedro Zylbersztajn
Todo o nosso uso da internet é baseado em uma série de infraestruturas físicas e lógicas que são igualmente produtos e produtoras do mercado global e de uma cultura até pouco tempo crescente de transnacionalização. No entanto, sendo parte de um mundo organizado em grande medida pelos dogmas do Estado-Nação, muitas vezes as bases da interconectividade aderem a — ou são interpeladas por — esse modelo geopolítico. Hoje, em tempos de recrudescimentos autoritários e sentimentos nacionalistas, a tensão entre o pensamento Westfaliano dos estados e a distribuição globalizada dos fluxos de informação é claramente visível nos esforços de nacionalização das infraestruturas da internet em potências globais como China, Rússia e EUA, que procuram, cada um à sua maneira, redesenhar suas redes para conter o tráfego (e, portanto, o controle) de dados dentro de suas fronteiras.
Essa tensão também pode ser vislumbrada no protocolo que sustenta nossa atividade mais cotidiana quando de frente a um computador. Quando digitamos um endereço na barra superior de um navegador4 estamos ativando dois sistemas: o Internet Protocol, ou simplesmente IP, que oferece um endereço único a todos os dispositivos conectados a uma rede, e o Domain Name System, ou DNS, que, por sua vez, serve como um tradutor desse endereço — uma sequência numérica pouco conveniente para efeitos de leitura e memorização humana — nos possibilitando escrever algo como www.youtube.com em vez de 208.65.153.238. As regras de uso do DNS são simples. Aos termos que definem individualmente cada site (youtube), segue-se um marcador de separação (.) e uma partícula convencionalmente definida (com). Essa partícula, como aprendemos, descreve o “campo” da internet do qual dado endereço faz parte — .org para organizações do terceiro setor e sociedade civil, .gov para o poder público, .com para empresas, companhias comerciais e usos generalizados, e assim por diante. Da mesma forma, temos a opção de localizar geograficamente o endereço através das terminações de duas letras atribuídas a países, como .br, .uk, .ar etc. A essas partículas finais, damos o nome de top-level domain (domínio de topo) ou TLD, e dividimos as duas categorias mencionadas em generic TLD (domínio de topo genérico, ou gTLD) e country-code TLD (domínio de topo de código de país, ou ccTLD), respectivamente.
A existência de ccTLDs aponta para uma necessidade do território virtual imaginado pela internet em se conformar à geografia do mundo físico. Entretanto, diferentemente dos estritos modelos de cidadania ditados pelas Nações, domínios atrelados a países são amplamente disponíveis, sendo muito mais lenientes em relação à comprovação de vínculo com o território representado. Dado o modelo atual da internet, é perfeitamente possível que um site .co, por exemplo, jamais tenha nenhum de seus dados circulando dentro dos limites territoriais da Colômbia, país ao qual a terminação se refere oficialmente. Além disso, o modelo de governança e comercialização de domínios não é necessariamente supervisionado pelo respectivo governo. Enquanto em certos países o registro, regulamentação e distribuição de domínios se dá dentro de agências governamentais específicas, em outros essa gestão pode se dar por exemplo via universidades públicas (por terem sido em diversos países os primeiros espaços conectados à internet), entidades civis sem fins lucrativos e até mesmo empresas comerciais privadas. Países que detêm mais de um ccTLD, seja por terem “territórios dependentes” (leia-se: colônias vestigiais) ou por terem apêndices históricos (como .su, da União Soviética, que até certo ponto ainda convive com o contemporâneo .ru, da Rússia), podem inclusive dividi-los entre diversas entidades gestoras.
Em todo caso, a venda de endereços na internet é um recurso a ser explorado pelos países, que recebem direta ou indiretamente, dependendo do modelo escolhido, retorno financeiro pelo interesse da comunidade on-line em utilizar seus domínios de topo. Ao passo que a expectativa mais imediata seria a de que o interesse manifesto em um ccTLD seria proporcional à população do território equivalente, a já mencionada disponibilidade de domínios desconectados de marcadores tradicionais de participação nacional produz interesses baseados em afiliações semânticas, que se sobrepõem às patrióticas. Assim, .la, sufixo oficial do Laos, passa a ter uma vida adicional como o TLD preferencial de negócios que se identificam com a cidade de Los Angeles, inaugurando novas geografias que dobram virtualmente a Península Indochinesa sobre a Califórnia. Em alguns casos, países pequenos passam a ter demandas de registro muito superiores à média de suas populações, por seus ccTLDs apresentarem algum atrativo comunicativo específico. É o caso de Tuvalu, que passou a ter na venda de seu midiático .tv cerca de 10% de sua arrecadação anual total. Montenegro, por sua vez, ao se tornar independente da Sérvia em 2005, recebeu o código .me, cujo grande potencial narcísico se confirmou ao se tornar o domínio de mais rápida ascensão em número de vendas na história.5 Mas, entre todos os ccTLD dos quais o sentido original ou ligação territorial foram perdidos, é difícil imaginar que algum carregue sobre si um simbolismo tão evidente dessa cisão quanto .io. E, talvez surpreendentemente, começamos pelo fato de que suas duas letras não fazem referência a processos computacionais, nem a um pedaço de terra, mas sim a um espaço que para quase todos os efeitos é considerado um não lugar: o mar. Mais especificamente, ao indian ocean.
IV.
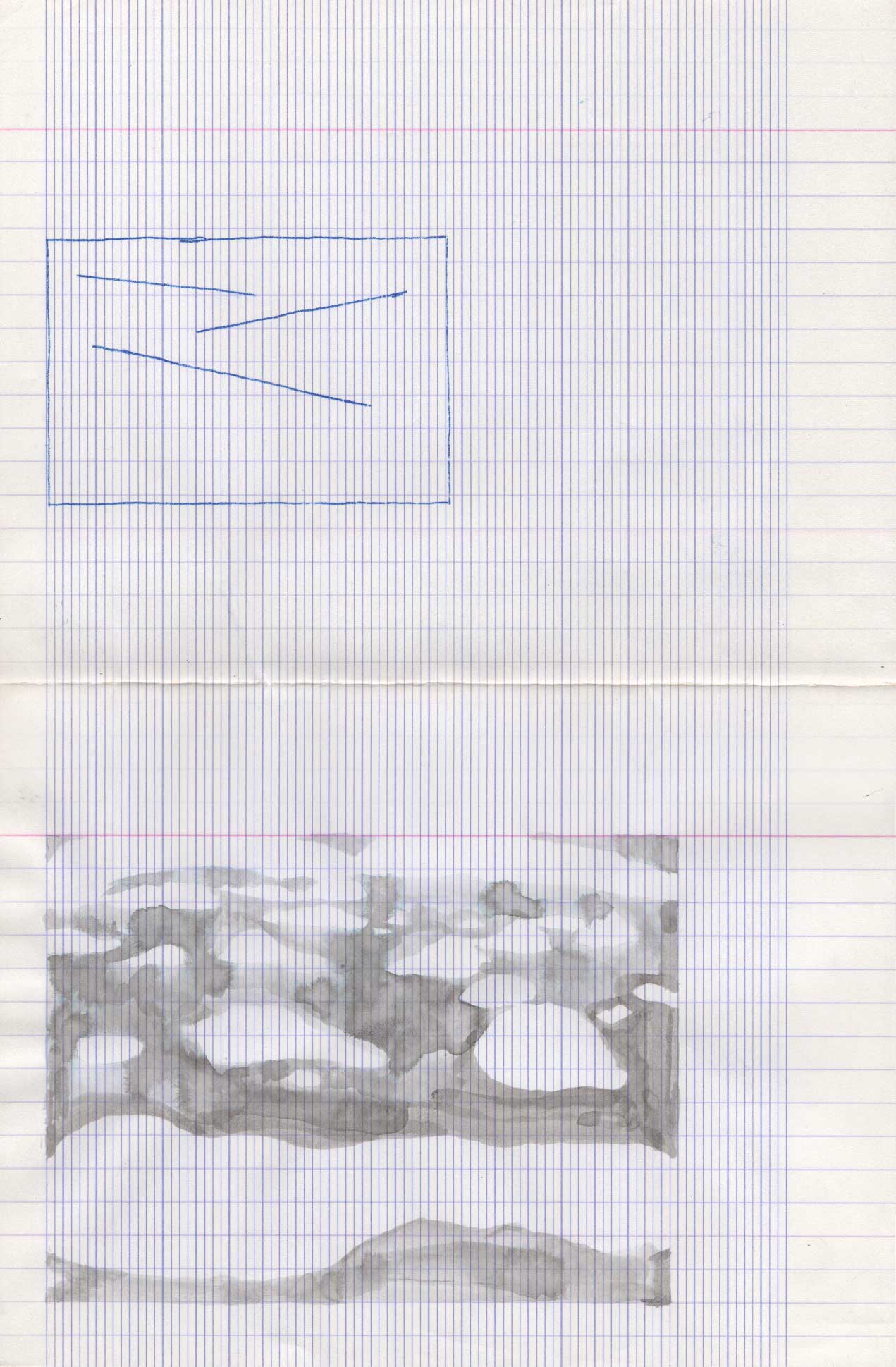
Arquipélago IV (bandeira dos dilacerados), Pedro Zylbersztajn
A história do Território Britânico do Oceano Índico, nome pelo qual o arquipélago de Chagos é oficialmente conhecido hoje, é marcada por uma sequência de deslocamentos forçados, apropriações e desapropriações tão explícitos e violentos que se configuram como uma espécie de forma platônica do domínio colonial europeu. O seu início se dá no século XVI, quando navegadores portugueses desembarcaram pela primeira vez no remoto conjunto de aproximadamente sessenta ilhas e sete atóis, localizado no centro-norte do Índico e rodeado por centenas de quilômetros de água salgada e vastos ecossistemas subaquáticos, que se organizam ao redor dos recifes de coral que se adensam na região. A narrativa do território desabitado, ou terra nullius, foi instrumentalizada em tempos coloniais para justificar a expropriação de territórios e a oclusão e extermínio de seus povos originários a ponto de tornar questionável qualquer alegação histórica dessa natureza vinda da parte de potências europeias. Porém, a tradição oral das Maldivas (a cerca de 500 km, são os vizinhos mais próximos) corrobora o fato de que não havia populações permanentes no arquipélago, para além de pescadores que por vezes se viam perdidos ou encalhados em suas praias e lagoas. Dos portugueses que lá desembarcaram, pouco sobrou. A caminho das Índias e desinteressados pelo que naquele momento parecia ser pouco mais do que o próprio oceano, nunca se apossaram das ilhas. No entanto, marcaram-nas de forma perene, conectando-as aos seus primeiros visitantes europeus até os dias atuais, ao dar-lhes nome. A um dos maiores atóis, batizaram de Pêro dos Banhos, presumidamente em homenagem a um navegador que pereceu ali. Ao maior pedaço de terra firme, deram o nome de Diego Garcia, navegador que visitou o atol em 1544. E, como que para comprovar o poder dos nomes, chamaram todo o arquipélago de Baixas de Chagas, em referência às feridas que Jesus Cristo sofreu durante a crucificação, não só descrevendo a geografia de pequenos rasgos na pele do oceano que as ilhas pontilham, mas prevendo ou mesmo instaurando a primeira de muitas lacerações praticadas nesse local.
Apenas no século XVIII a Europa passou a mirar ostensivamente Chagos com o interesse de tornar o local parte de uma economia colonial em franca expansão global. Após dominar as ilhas de Reunião, Maurício e as Seicheles, no oeste do Índico, a França anexou o arquipélago ao seu crescente império. Em 1770, passou a comercializar licenças para o estabelecimento de plantações de coco nas ilhas de maior porte, com o objetivo de produzir e exportar óleo de coco e copra, produtos que até hoje compõem a economia de pequenas nações indo-pacíficas. A partir de então, sob a evidente necessidade de importação de mão de obra, uma nova rota do tráfico de humanos escravizadas se constituiu, deportando principalmente pessoas de origem bantu da costa leste da África, seguidas por eventuais indivíduos de origens austronésia e malaia. Assim, a primeira população a que se pode chamar de chagossianos foram escravos majoritariamente negros e seus descendentes, sob domínio francês. Com o tempo, uma cultura créole de matriz semelhante às vistas no contexto índico ao seu redor, mas prenhe de especificidades, foi se desenhando, influenciada por trabalhadores temporários, tripulações de mercadores, colonos e os próprios escravizados. Corriqueiramente referidos como îlois, moradores da ilha, os novos e primeiros habitantes de Chagos se re-territorializaram, em meio ao oceano, a milhares de quilômetros de onde foram retirados. Construíram casas e famílias, costuraram uma língua comum e enterraram seus mortos.
Em 1794, a França pós-revolucionária aboliu a escravidão. No entanto, o isolamento geográfico do arquipélago dificultou a chegada da notícia e, principalmente, sua implementação, num contexto em que autoridades locais tinham pouco interesse em perder seus lucros por ter que dignificar à sua mão de obra o status de indivíduo, e não mais de propriedade. Após a queda de Napoleão, em 1814, o Reino Unido, que já declarava interesse nas posses francesas na região desde o final da década de 1780, conquistou o domínio das Seicheles, de Chagos e de Maurício (um grupo de ilhas no arquipélago das Mascarenhas, batizado em homenagem a um navegador português, que são por sua vez batizadas em homenagem a Maurício de Nassau, o mesmo que regeu o domínio holandês do nordeste brasileiro, e que foi primeiro colonizada por franceses e em seguida por britânicos; os fluxos não só se cruzam como se repetem). Chagos passou a ser administrada a partir da autoridade colonial de Maurício, efetivamente se tornando um território subordinado da colônia. Por efeito da legislação britânica, a escravidão continuou sendo permitida, e os chagossianos só viram um primeiro resquício de liberdade em 1834, quando o Império Britânico proibiu em sua maior parte a posse de seres humanos.6 Contudo, o modelo de abolição inglês previa um período de “aprendizado” de cinco anos no qual os antigos donos de escravos ainda não eram obrigados a compensar seus trabalhadores por ¾ do seu tempo de trabalho. Após esse período, os moradores das ilhas passaram a ser, para efeitos legais, livres. Por estarem em um local de economia única da qual não detinham nem poderiam deter nenhum dos meios produtivos, todos os chagossianos continuaram trabalhando nas plantações. Recebiam a maior parte de seus salários em espécie, na forma de porções de comida e bebida, materiais de construção e roupas. Todos a partir de doze anos de idade trabalhavam, e aos mais velhos eram permitidas porções iguais por trabalhos mais leves. Assim seguiu a vida no arquipélago de Chagos até meados do século XX.
Ao que até então já havia sido um longo pesadelo colonial, as décadas de 1960 e 1970 trouxeram ares de fim do mundo, ao menos àquele recôndito mundo insular. Em meio à Guerra Fria e às disputas Ocidente-Oriente que se acirravam, os Estados Unidos buscavam um lugar ideal para a instalação de uma nova base militar que os desse apoio estratégico na Ásia, território de maior influência de seus oponentes comunistas. O Reino Unido se prontificou em oferecer uma parte do seu decadente império, e o imensamente bem posicionado arquipélago de Chagos, praticamente equidistante da costa da África, do Oriente Médio, do subcontinente indiano e do sudeste asiático, foi o local escolhido. Com um acordo dessa natureza, os britânicos não só ganhariam capital político com a superpotência americana, mas garantiriam um rendimento de longo termo pelo aluguel do próprio terreno marítimo, certamente superior ao que já obtinham com a empresa que a essa altura detinha o monopólio das plantações de coco nas ilhas. Em um momento de crescente sentimento anticolonial e sucesso de movimentos de independência, no entanto, os EUA determinaram como condição de sua ocupação que a base se estabelecesse em uma região despopulada, evitando qualquer risco de reivindicação de soberania da parte de habitantes locais. Para contornar o fato de que tal exigência não seria atendida na situação em que se encontravam, o Gabinete Colonial Britânico tomou duas medidas. A primeira, separar formalmente as ilhas Chagos de sua administração local em Maurício, que estava em vias de conquistar sua independência, fundando assim um novo território oficial, batizado burocrática e autoritariamente de Território Britânico do Oceano Índico. A segunda, pura e simplesmente, expulsar absolutamente todos os moradores das ilhas do recém-inaugurado território, sob a dissimulada premissa de que a região, a essa altura ocupada (forçosamente) há aproximadamente 150 anos, não possuía “habitantes nativos”, mas apenas trabalhadores lá morando sob regime de contratos temporários. A partir de 1967, uma série de ofensivas com odores de crimes contra a humanidade foi desempenhada paulatinamente pelo governo do Reino Unido visando a deportação total dos chagossianos, dentre as quais a extinção dos meios de subsistência da população local e o assassinato de todos os cachorros das ilhas, como uma espécie de agouro. De 1969 em diante, os îlois que fossem de visita a Maurício, seja para visitar família, consultar um médico ou apenas passear, eram impedidos de embarcar na jornada de volta, sem notificação prévia. Sem notícias, parentes iam ao país vizinho em busca de seus entes perdidos, apenas para descobrir que eles mesmos, então, seriam impedidos de voltar. No início de 1971, membros da marinha norte-americana chegaram em Diego Garcia para iniciar a construção da base. Meses depois, as autoridades coloniais notificaram todos os residentes remanescentes que eles eram obrigados a partir, e em 1973 todos haviam sido removidos para as Seicheles ou, em maior número, para Maurício. O governo mauriciano, já independente, se recusou a recebê-los sem compensação. O governo britânico ofereceu então um montante que deveria ser repassado aos deportados, mas que foi retido pelas autoridades de Maurício por cinco anos, e distribuído, ao que tudo indica, apenas a um número parcial das famílias que lá tentavam se estabelecer por falta de alternativa. Os chagossianos, como continuaram se definindo e sendo definidos apesar da perda do local de referência, se tornaram populações marginalizadas nos países que os receberam, tendo que recomeçar a partir dos poucos pertences que conseguiram levar consigo, sem o treinamento necessário para se incorporarem a uma economia complexa, sofrendo preconceito por sua cor, língua e história. Hoje, cerca de cinquenta anos depois, vivem espalhados entre Maurício, Seicheles e a Inglaterra, onde constituíram uma pequena comunidade na cidade de Crawley e se organizam ao redor da UK Chagos Support Association.7 Com um status de cidadania precário e incompleto, lutam pelo reconhecimento de sua trágica história, por reparações, e pelo direito de retornar ao arquipélago onde se entenderam como povo.8 A República de Maurício, depois de uma longa batalha judicial, conseguiu no fim de 2019 uma decisão da Corte Internacional de Justiça em Haia que afirma que a separação das ilhas Chagos do restante do território mauriciano foi feita de forma ilegal pelo Reino Unido, e que, portanto, os países devem cooperar para estabelecer o retorno da soberania do arquipélago à nação índica. Ao que indica o tratamento histórico dado aos chagossianos pelos mauricianos, pouco mudaria que não o destino dos grandes valores oriundos dos norte-americanos pelo empréstimo do terreno. De toda forma, a decisão da corte tem apenas caráter consultivo, e o Reino Unido já manifestou seu completo desinteresse em cumpri-la.
A base de Diego Garcia se provou de enorme valor para o expansionismo bélico dos Estados Unidos: entre os anos 1970 e agora, foi ponto de apoio fundamental para operações de bombardeio durante a Guerra Irã-Iraque, as duas Guerras do Golfo e a guerra do Afeganistão; especula-se que tenha sido utilizada como uma prisão ilegal de suspeitos de terrorismo; é um dos principais controles das linhas marítimas de comunicação chinesas no Oceano Índico.9 Auxiliados integralmente pelo governo do Reino Unido, os militares norte-americanos foram extremamente bem sucedidos até hoje em limitar o acesso tanto à ilha principal, quanto a todas as outras que compõem o Território, e só aos que têm rigorosas autorizações militares é concedido o direito de pisar no arquipélago. Toda a comunicação da ilha é gerenciada pela companhia Sure, telecom baseada no Canal da Mancha que se especializa em atender territórios ultramarinos britânicos. Em algum canto perdido da base militar está o servidor através do qual conecta Diego Garcia ao resto do mundo. Seu site, sure.io, é o único de todos os que compartilham esse sufixo que efetivamente se encontra no território ao qual ele se refere.
V.
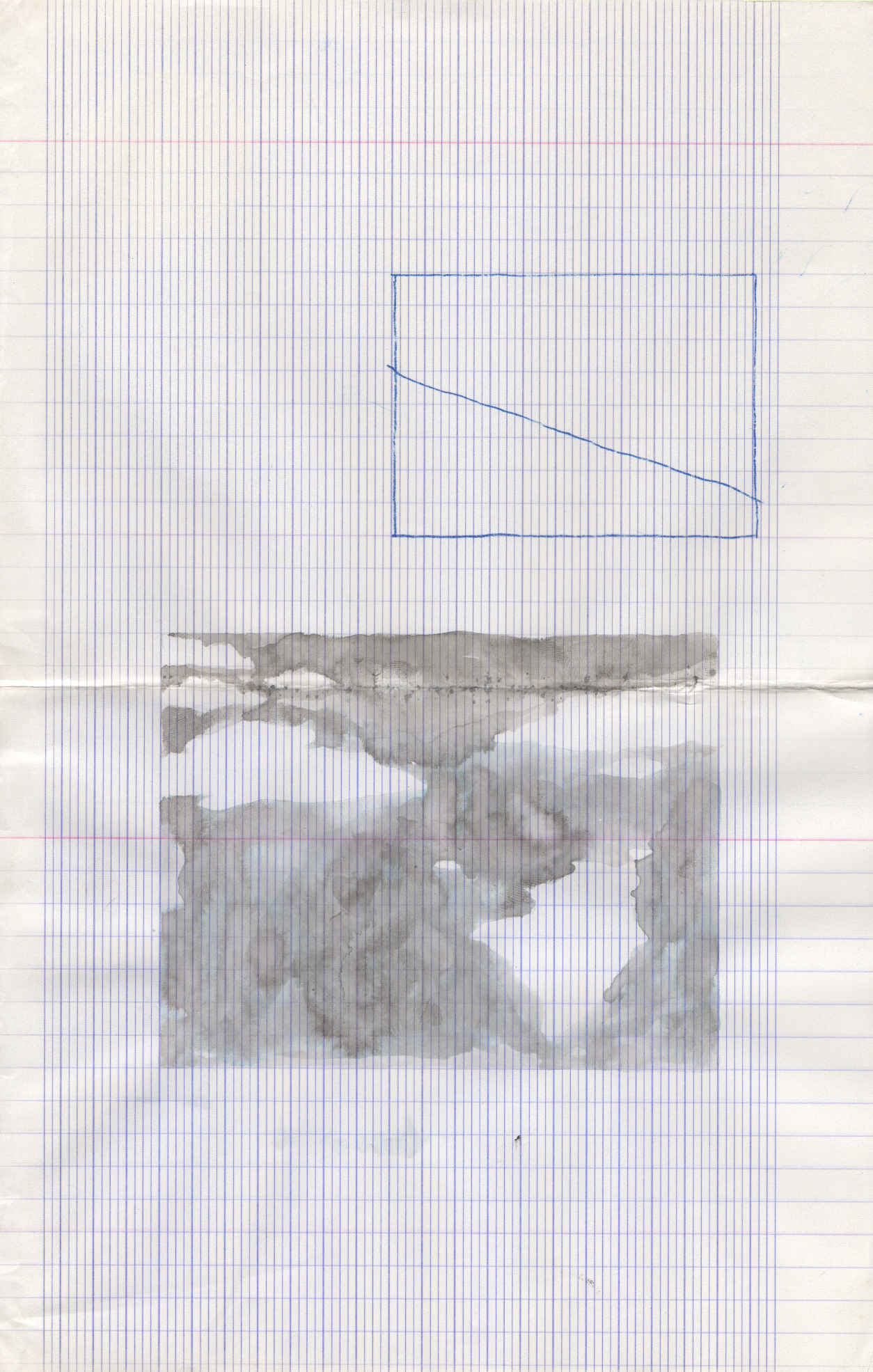
Arquipélago V (limite), Pedro Zylbersztajn
A comercialização do ccTLD .io foi atribuída desde sua inauguração em 1997 a uma pequena empresa inglesa chamada Internet Computer Bureau, ou ICB, que também detém o direito de registro dos domínios de topo .sh, da ilha de Santa Helena, e .ac, da Ilha da Ascensão, ambos territórios dependentes do Reino Unido no meio do Oceano Atlântico (que, como já é de praxe apontar, foram primeiramente visitadas por navegadores portugueses, posteriormente reivindicadas por holandeses e eventualmente assimiladas pelos britânicos). Em 2014, seu então diretor Paul Kane, um respeitado nome no mundo da infraestrutura da internet, provocou um leve abalo nos meio de comunicação especializados ao afirmar a uma matéria que buscava iluminar os vínculos entre o sufixo e o sofrido território a que ele se refere, intitulada “The Dark Side of .io”, que para cada domínio vendido, sua companhia distribui parte dos lucros obtidos às autoridades britânicas, para que “operem serviços da forma como lhes convier”.10 Embora a constatação tenha sido subsequentemente negada pelo governo — ainda que sem muita evidência ou convicção —,11 foi levada suficientemente a sério para colocar em pauta o substrato colonial da história e do emprego corrente do domínio. Sabrina Jean, liderança do movimento de apoio aos chagossianos, declarou que esse era mais um exemplo da comunidade sendo “roubada” e comparou esse suposto ganho financeiro com a exploração física do território e com o próprio aluguel da ilha pela base americana, fontes de receita que nunca foram de nenhuma maneira compartilhadas ou reinvestidas na comunidade deslocada.12
Enquanto alguns donos de startups registradas em domínios .io preferiram seguir com business-as-usual, afirmando que um domínio e seu referente geográfico são inteiramente (e portanto, presume-se, politicamente) desconectados, outros expressaram uma crise de consciência: como conciliar uma história que eles viam como “chocante”, “errada” ou, em um caso citado na matéria, “levemente problemática”,13 com suas brand images, refletidas em um TLD supostamente moderno, com ótima disponibilidade de endereços dos quais eles consideravam ser excessivo abrir mão? Para sanar essa questão, criaram o site-campanha thedarksideof.io, onde propõem à comunidade de sites .io que a cada domínio registrado com o sufixo, os registrantes façam uma doação de igual valor às organizações que lutam pela causa chagossiana. Apesar de bem intencionada, é uma ação de alcance limitado e, sobretudo, bastante acomodada aos modelos de expropriação colonialistas, por continuar financiando seus mecanismos com uma mão enquanto tenta repará-los com a outra. Enquanto não podemos hoje afirmar categoricamente que o poder público do Reino Unido recebe um repasse direto das vendas do domínio, seguem os fatos: em 2018, Paul Kane vendeu a ICB e seu mais valioso ativo, a gestão do TLD .io, por U$70 milhões de dólares.14 A compradora, a gigante Afilias, opera domínios como .info, .porn, e .au (de Austrália), entre outros. Atualmente, anunciam o sufixo em seu site sob o seguinte pitch: “.io: Inovação. On-line. Energizando a nova geração.”15
VI.
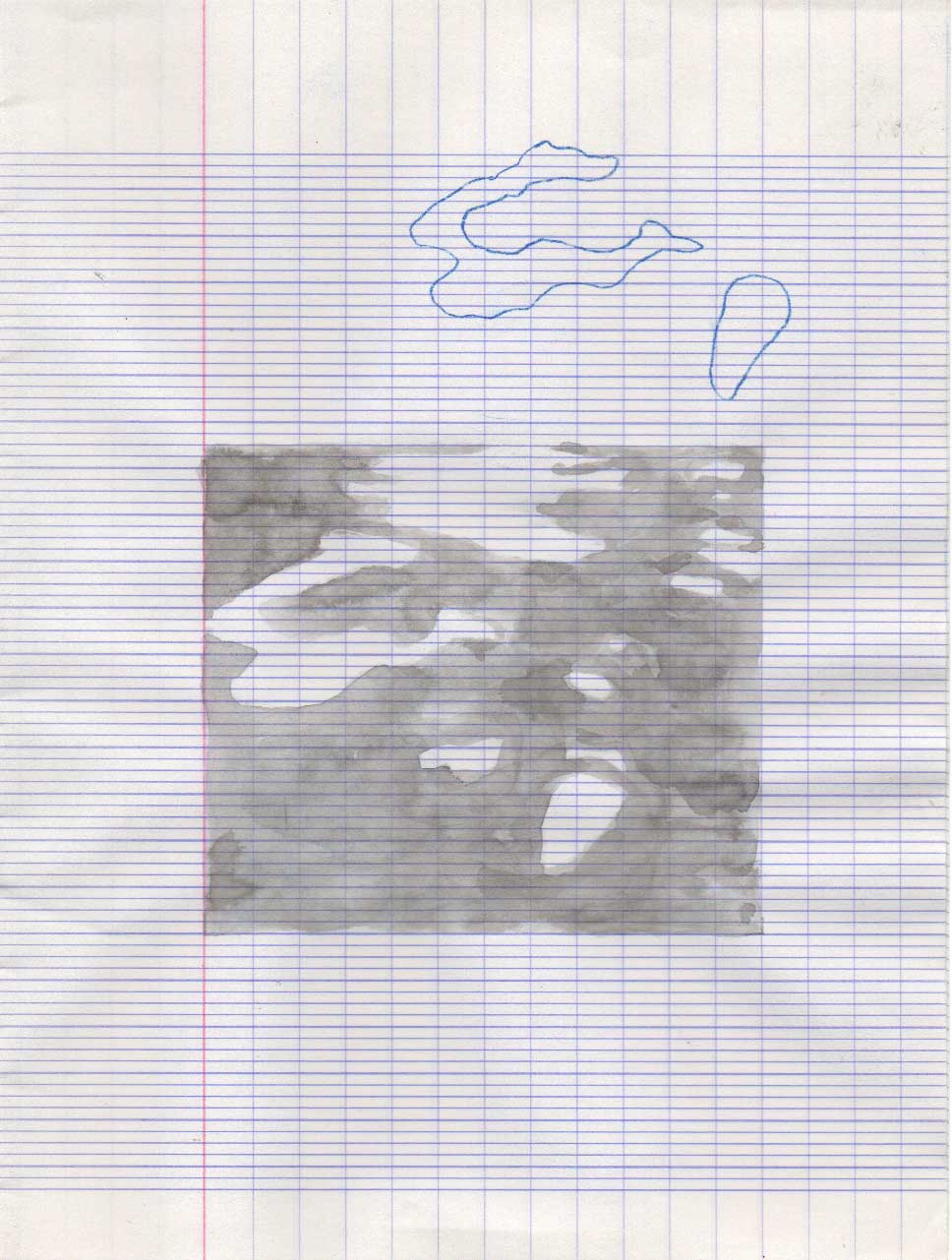
Arquipélago VI (cloud service management), Pedro Zylbersztajn
Em um infame despacho confidencial, Denis Greenhill, Chefe do Serviço Diplomático Britânico que supervisionou o processo de despopulação forçada nas ilhas, se refere aos chagossianos como parte da fauna local, em um nível equivalente aos pássaros, e os chama de “uns poucos Tarzans e homens Sexta-feira, de origem obscura”.16 O comentário, embora particularmente agressivo e condescendente, abre uma janela para uma ideia comum no imaginário coletivo, o da ilha deserta. No texto “Causas e razões das ilhas desertas” (1953), Gilles Deleuze — um filósofo continental — diz que “deve parecer-nos filosoficamente normal que uma ilha seja deserta”,17 uma vez que a humanidade só pode se sentir segura presumindo alguma dominação do conflito entre terra e mar, tensão demasiado presente em qualquer ilha. Assim, “só [se] pode viver sobre uma ilha esquecendo o que ela representa. Ou as ilhas antecedem o homem ou o sucedem”.18 Na concepção de Deleuze, que em alguma medida reflete e articula um senso-comum, “para que uma ilha deixe de ser deserta, não basta, com efeito, que ela seja habitada”,19 uma vez que seus habitantes podem apenas seguir o movimento interno da ilha, seja de se separar completamente, como no caso das ilhas derivadas do continente, ou se tornarem absolutamente criadores de seu mundo, como no caso das ilhas originárias, criadas no oceano por corais e vulcões. Assim, na ilha já se encontra uma espécie de habitante protótipo, que apenas se realiza enquanto parte do seu próprio cenário, não rompendo seu deserto, mas o compondo — um “homem que precede a si mesmo”20. O filósofo corrige a trajetória de seu pensamento dizendo que, no entanto, o movimento interno do habitante não é nunca idêntico ao movimento que lhe põe na ilha, e “portanto, a unidade da ilha deserta e do seu habitante não é real, mas imaginária”,21 ou, mais precisamente, mitológica. A menção de Greenhill ao arquétipo literário do Sexta-feira de Robinson Crusoé exprime esse pensamento mitológico no qual o homem europeu encontra uma ilha que apesar de habitada é deserta. Sexta-feira representa uma espécie de docilidade criativa da própria ilha, uma espécie de extensão antropomórfica do território cujo princípio é ser subserviente ao desejo do industrioso estrangeiro. Crusoé, que naufraga no Atlântico após uma expedição à África para comprar escravos para seu engenho de cana no Brasil, e só é capaz de exprimir seu potencial capitalista criativo de sobrevivência a partir da apropriação do trabalho de um homem entendido enquanto recurso natural da ilha, é um modelo moral para a ocupação de Chagos.22 É esperado, desse ponto de vista, que ao se ausentar da ilha, o europeu não possa conceber uma existência completa para seus Sexta-feira, que, em um exercício de permanência de objeto às avessas, se fundem à paisagem, novamente — ou igualmente — deserta.
Em seu livro Islandology (2014), um estudo sobre a retórica literária ao redor da insularidade, Marc Shell elabora duas perspectivas fundamentais referentes à ontologia das ilhas. A primeira as define como terra em oposição à água. Isso é, o que marcaria a experiência essencial de “ilha” seria a diferença existente entre um determinado território, composto de terra (sólida), e todo o seu entorno, composto de água (líquida), que traçaria um limite fronteiriço categórico. A segunda as define de forma contrária, como terra idêntica à água. Nessa concepção, que justifica topônimos aparentemente contraditórios como Zelândia (Zealand, literalmente mar-terra), os limites territoriais entre terra firme e massa líquida são contínuos, com o espaço social da ilha se expandindo sobre o seu entorno, que passa a compor indeterminadamente sua identidade tanto quanto seu “centro” terrestre.23 Essa noção nos ajuda a começar a entender o apagamento histórico-tecnológico do que hoje é chamado de Território Britânico do Oceano Índico. Lá, a terra e o oceano, lugar-não-lugar por excelência, espaço inabitado de fluxos e passagens, confundem-se, de modo que o próprio acrônimo de seu domínio, quando espiado por baixo dos inputs e outputs, refere-se exclusivamente ao indian ocean, sem menção a qualquer pedaço de chão. Dessa forma, o povo se torna ilha que se torna oceano, que afoga em aproximadamente 300 mil endereços on-line .io suas histórias e reivindicações. Na geografia do mundo contemporâneo, o arquipélago de Chagos é lugar tão somente enquanto site — essa designação física a que nos acostumamos denominar o espaço virtual —, dividido em servidores tão espalhados quanto sua antiga população.