Entrevista com Mike Davis
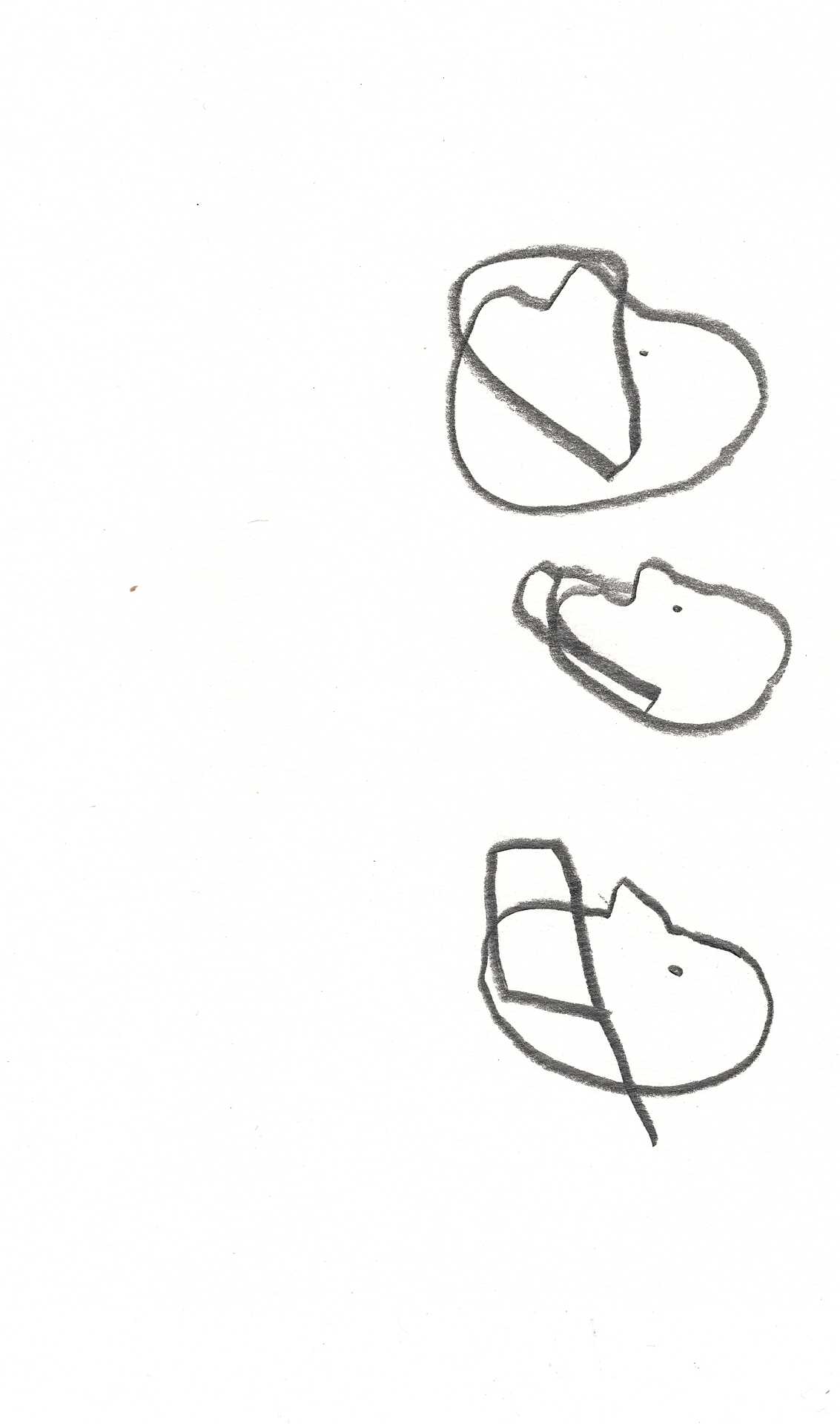
Isola, Christiana Moraes.
Apresentação
Em 2017, logo após a posse de Donald Trump à frente do executivo mais poderoso do planeta, Mike Davis previu duas trajetórias possíveis para o futuro imediato à época: ou a vitória de Trump seria “a dança do espectro da moribunda cultura branca, dando lugar a um retorno à normalidade da era Obama, ou, ao contrário, pode-se estar avançando na direção de uma zona intermediária de um fascismo bem caseiro”.
Ambas as alternativas vislumbradas por Davis se materializaram parcialmente. Com a explosão da pandemia e da pobreza, o campo de Biden se reorganiza agora, antes mesmo da posse, em torno a uma equipe de centristas da gestão Obama e de ferrenhos defensores da tradição belicista. E se a última planilha de balanço vai ou não classificar a administração Trump de fascista, as sombras da violência perpetrada pelas milícias de direita, os sequestros praticados pela polícia federal e os constantes conflitos que tomam as ruas — para me limitar a apenas alguns sintomas — pesam copiosamente sobre as perspectivas mais douradas de um “retorno à normalidade”.
A análise de Mike Davis tem sido indispensável num ano como este, pela imbricação caleidoscópica das catástrofes sociais, que é a essência de seu trabalho de pesquisa. Flagelos, fome em escala global, rebeliões, desastres naturais e as esperanças desfeitas da social-democracia americana tudo isso encontrou seu lugar no estreito contêiner temporal deste ano. E Davis incansavelmente fez a crônica de todas as mediações entre cada uma das camadas desse apocalipse em marcha.
Mike Davis nasceu em 1946, em Fontana, Califórnia, e já publicou mais de vinte livros desde seu primeiro sucesso em 1986, Prisoners of the American Dream. O título mais recente, Set the Night on Fire, em coautoria com John Weimer, é um riquíssimo e detalhado balanço dos movimentos sociais, rebeliões e repressão na Los Angeles dos anos 1960. Esse livro e seus escritos mais recentes, tal como ele mesmo esclareceu em inúmeras entrevistas que concedeu este ano, refletem o ponto de vista de um “cara já velho” falando do século XX. Sua pesquisa busca trazer um conhecimento que os jovens de esquerda possam aproveitar ao se tornarem adultos nesse caótico século XXI.
Eu falei por telefone com Davis em meados de dezembro e tratamos das eleições, da pandemia, da história e das perspectivas para a esquerda americana que são proporcionais a este “conflito final”.
Mesmo para quem duvidava que Biden fosse ganhar de lavada, foi chocante ver que a eleição trocou as pirotecnias da gestão Trump por uma espécie de retorno frouxo aos tempos de Clinton e de Obama — a essência dessas duas administrações foi integrada à campanha desalentadora de Biden, marcada por oportunidades perdidas e pela narrativa de reconciliação nacional que se produziu depois da vitória. Que tal começar daqui, com as expectativas de lavada, e o cara que arranjaram para presidente?
Mike Davis — É extraordinário! Tínhamos um presidente republicano, assistindo à morte de quase trezentos mil americanos, em meio ao que se vai se transformando numa depressão, com cerca de onze milhões de americanos tendo perdido seus empregos, e que nunca logrou obter o apoio da maioria nas pesquisas de opinião. E apesar disso a eleição foi uma catástrofe para os democratas. Pelo voto popular, Biden teve seis milhões de votos a mais, mas no nosso estranho e antidemocrático sistema eleitoral, a maior parcela dessa maioria não foi contabilizada por estar concentrada em estados majoritariamente democratas, como a Califórnia e Nova York. Na verdade, os 77 votos do Colégio Eleitoral que deram a maioria a Biden representam apenas 260 mil votos a mais em relação à última eleição. Em 2016, Trump ganhou as eleições com uma margem de 77 mil votos em três estados. Sem querer me enrolar em números aqui, esta eleição de agora foi muito apertada, se interpretada a partir dos dados do Colégio Eleitoral.
O Comitê de Campanha dos democratas no Congresso acreditava que ganharia de dez a vinte novos deputados. Ao contrário, perderam doze e os democratas agora detêm a maioria no Congresso por um fio. Os democratas mais conservadores no Congresso — a chamada bancada “Blue Dog” (Cachorro Azul) — agora vão poder exercer um poder tremendo sobre o legislativo, embora tenham sido justamente eles os que mais perderam assentos. No Senado, como se sabe, tudo vai depender das duas eleições que acontecem em janeiro na Geórgia. O mais provável é que os republicanos vençam a parada. Muito vai depender da capacidade de os republicanos da Geórgia mudarem as regras de votação de modo a excluir os eleitores democratas, sobretudo os negros de maior idade, travando a votação por correio e exigindo mecanismos de identificação mais rígidos dos eleitores.
Ademais, como teremos o Censo este ano, os novos membros do legislativo em todos os estados, com a exceção de apenas seis, vão poder redefinir o mapa dos distritos eleitorais com base nos novos dados populacionais. Essa tem sido uma das principais estratégias dos republicanos desde 2010, quando a ascensão do Tea Party e a dramática reversão de expectativas com o bailout de Obama aos banqueiros permitiram que os republicanos ganhassem maiorias esmagadoras nos legislativos estaduais, dando início a uma reconfiguração agressiva dos distritos eleitorais — eles redesenharam os mapas eleitorais de modo a abarrotar num único distrito o maior número possível de democratas. A Carolina do Norte foi um caso arquiconhecido, pois lá os democratas ganharam a maioria dos votos populares, mas acabaram minoritários em termos de assentos.
Portanto, era da maior relevância vencer as eleições em alguns estados neste ano, especialmente no Texas. Os democratas selecionaram nove distritos na corrida para o Senado Estadual no Texas, aqueles onde o democrata Beto O’Rourke havia derrotado o republicano Ted Cruz em 2018. Com rios de dinheiro doados por Mike Bloomberg, os democratas tentaram ganhar esses assentos este ano, o que lhes teria garantido a maioria no legislativo estadual, evitando assim uma nova rodada de manipulação dos limites distritais pelos republicanos. Ao final, contudo, os democratas perderam todos esses assentos no Texas. Ao mesmo tempo, não conseguiram eleger nenhum representante no legislativo estadual no New Hampshire. Perderam tudo. Atualmente, os republicanos controlam as duas casas nos legislativos estaduais em aproximadamente trinta estados.
Esse quadro contrasta fortemente com aquele descrito pelos apoiadores de Joe Biden, que insistem em destacar a vitória no voto popular. É assustadoramente similar a 2016, quando, corretamente, considerou-se que a derrota de Hillary Clinton só aconteceu porque as regras do Colégio Eleitoral não são democráticas. O custo de ficar insistindo nesse fato é que não se percebeu o quanto de poder havia sido cedido aos republicanos pelo país afora, ao longo da última década.
M.D. — Essa eleição, se você olhar bem, foi um desastre de ponta a ponta para os democratas num ano em que — dadas as condições sob as quais Trump estava concorrendo e os inúmeros desastres que podem ser colocados na sua conta — era impossível imaginar qualquer outra coisa que não fosse uma vitória democrata esmagadora.
Democracia plena nesse país só existiu por 55 anos. Em 1965, a Lei do Direito ao Voto foi conquistada na Batalha de Selma,1 permitindo, pela primeira vez, que todos os cidadãos americanos, qualquer que fosse sua raça ou gênero, pudessem votar. A maioria das pessoas não se dá conta de que a democracia americana só tem meio século de existência. O que se vê agora, com esse grupo de congressistas republicanos que se juntam aos estados republicanos para questionar os resultados da eleição, é o equivalente, no plano simbólico, do bombardeio do Forte Sumter.2 É a total negação do que é democracia.
A ressurgência de analogias com a Guerra Civil sinaliza algo muito estranho. Há poucos dias, Rush Limbaugh3 andava falando sobre secessão — isto é, que todos os estados vermelhos4 deveriam se juntar e formar uma nação. Isso é obviamente ridículo, mas me parece que não se pode entender verdadeiramente o que está acontecendo nos Estados Unidos sem fazer referência ao que se passou na Guerra Civil, com um lado falando de paz e reconciliação e o outro pregando a guerra.
Minha pergunta com relação à analogia com a Guerra Civil, tal como você e pessoas como Alex Hertel Fernandez descreveram,5 é que o lado da “guerra” foi construindo metodicamente seu poder na última década, enquanto o outro, ao que parece, praticamente não fez nada. Quem são, na verdade, os combatentes aqui?
M.D. — Essa é uma observação clássica na política americana: as duas partes são assimétricas. Os republicanos costumam ser um partido unido no plano ideológico, ao passo que os democratas são uma coalizão de interesses, e isso hoje é mais verdadeiro do que nunca. Por exemplo, se você olhar para os estados, os republicanos construíram uma infraestrutura extraordinária. Eles possuem institutos de políticas pró-mercado em todos os cinquenta estados da federação, por vezes até mais de um. São instituições financiadas por bilionários locais ou regionais. Eles têm o Conselho Americano de Intercâmbio Legislativo onde os empresários das corporações sentam-se com os congressistas republicanos e literalmente ditam a legislação. Se você se eleger como republicano, nem precisa saber nada sobre a função que vai ocupar, pois vai receber uma pilha de projetos para votar. Não bastasse, há os monstruosos comitês de ação política, como o Americanos pela Prosperidade, dos irmãos Koch, que investem massivamente na esfera política estadual e também local.
Karl Rove6 dedicou grande parte da campanha eleitoral em Ohio em supervisionar esforços para evitar que os democratas obtivessem a maioria na Suprema Corte de Ohio. A infraestrutura republicana lhes permite disputar eleições até para chefe da carrocinha de cachorros, enquanto os democratas nada têm de parecido. Não só os republicanos detêm esse aparato fantástico, como grande parte do país se tornou um mercado de mídias exclusivas, controlado por estações de rádio de direita, pela Fox News, e por websites ainda mais à direita que a Fox. Inexiste qualquer sinal de igualdade entre republicanos e democratas em termos de infraestrutura organizacional, estratégia nacional ou sequer unidade de posições.
Em seu artigo no último número da New Left Review,7 você dá ênfase ao termo cunhado por Sam Farber,8 “capitalismo lumpen”, expondo o incrível caso de dois doadores de Cleveland, no Tennessee. Quanto dessa assimetria se deve a uma mudança na base dos doadores, com os democratas crescentemente representando o Vale do Silício e Wall Street, e por isso mesmo menos inclinados do ponto de vista ideológico a jogar dinheiro em eleições estaduais, e os republicanos representando “pequenos” bilionários oriundos de lugares pequenos e, portanto, mais diretamente interessados na política local e estadual?
M.D. — É um admirável mundo novo quando comparado a 1980 e às eleições de Ronald Reagan. Ele foi eleito defendendo uma pauta populista de crítica a impostos e integração escolar, mas em coordenação com uma mesa-redonda de empresários — o que muito se aproximava do que poderia ser denominado o comitê central da classe dirigente, representando as maiores corporações americanas —, cuja meta era destruir todos os acordos coletivos nacionais e des-sindicalizar o país. O mais surpreendente com respeito a essa última geração foi o protagonismo crescente dos novos bilionários regionais, que não vêm de Nova York ou Los Angeles, nem tampouco de Dallas, mas de cidades pequenas como Grand Rapids ou Tulsa.
Nesse artigo eu conto a história de uma espécie de utopia trumpista, que ganha forma na cidade de Cleveland, no Tennessee. Não estamos falando da grande e decadente cidade à beira do rio Cuyahoga, mas de uma cidadezinha de 43 mil habitantes que tem dois bilionários, com cada um deles ilustrando perfeitamente a relação entre os novos ricos e o poder político. Um deles é dono da maior rede de casas de repouso para idosos dos Estados Unidos, incluindo aquela de Seattle que foi o epicentro original da pandemia do coronavírus no país. Praticamente todas essas casas de repouso registraram um número incontrolável de infecções e mortes por Covid-19 (essas casas de repouso com fins lucrativos são, em grande medida, empreendimentos criminosos que fraudam Medicare e Medicaid enquanto prestam serviços muito aquém de um padrão mínimo).
O outro bilionário dessa mesma cidade é dono da segunda maior empresa americana de empréstimos rápidos e de curto prazo (payday loans) — trata-se de uma firma cujo negócio é a usura e que só teve condições de operar porque o estado flexibilizou as regras que inibiam práticas usurárias.
Em ambos os casos, fortunas foram criadas graças à habilidade de seus donos de obter subsídios e cobertura política tanto do governo federal quando do estadual. Sua cruzada é contra toda forma de governo, mas na prática eles são parasitas que vivem do gasto social. Imagine agora que você vive numa cidade de 43 mil habitantes, que fica num condado onde há cem mil pessoas, e você tem dois bilionários, ambos ativistas em prol do Partido Republicano e apoiadores de Trump. Eles são capazes de eliminar qualquer tipo de oposição, não apenas no entorno mais imediato, mas em boa metade do estado do Tennessee.
A pergunta é a mesma: para onde foram as grandes corporações e como se explica que esses novos grupos tenham uma influência tão tremenda? Você se diz que à medida que as corporações passam a investir em escala global e que as antigas indústrias como a do aço estão francamente em declínio e perto da extinção, os grandes bancos e os megainvestidores tomariam seu lugar. E é fato que foi esse movimento que ampliou a base de doadores do Partido Democrata e, numa extensão bem menor, a dos republicanos. O que impressiona é que esse domínio se estendeu pelo interior dos Estados Unidos — pelo Sul e Meio-Oeste. Com frequência, isso é resultado do fracasso dos sindicatos em penetrar e organizar a indústria local. A indústria automotiva americana hoje se divide em duas partes: os três grandes fabricantes estão localizados nos Grandes Lagos, mas todas as marcas estrangeiras, como a VW e a Toyota, estão na fronteira com o Sul ou bem mais ao Sul. O UAW (United Auto Workers) lançou inúmeras campanhas para organizar os trabalhadores dessas plantas e perdeu — em parte, devido ao grande apoio que essas corporações recebem dos políticos republicanos, em parte porque as mídias locais se mobilizaram contra tais campanhas sindicais. Um dos fundamentos básicos dos estados vermelhos tem sido o direito de amordaçar a liberdade sindical e impedir os sindicatos já enfraquecidos de obterem certificação para poderem realizar eleições. Isso é parte de uma longa história de derrotas dos trabalhadores no Sul, que teve início logo após a Segunda Guerra Mundial.
Eu gostaria de me afastar um pouco da temática da pós-eleição nos Estados Unidos, pois estou curioso para saber o que pensa da futura administração Biden-Harris no campo das relações internacionais, em particular como vê o futuro — ou a falta de futuro — das instituições internacionais de saúde pública. Há 15 anos, seu livro Monster at the Door diagnosticou e previu as catástrofes que se desenrolaram em 2020. De que maneira a experiência deste ano alterou ou atualizou essa análise, e qual sua perspectiva em matéria de saúde pública global?
M.D. — Em primeiro lugar, é preciso lembrar que há duas abordagens antigas quando o assunto é saúde pública. A primeira está vinculada à medicina militar americana, logo após a conquista das Filipinas e o estabelecimento do poderio americano no Caribe. Essa abordagem estava assentada numa estratégia baseada em campanhas cujo alvo era uma doença específica ou seu principal vetor, através de vacinas, erradicação de mosquitos etc. Essa foi a lógica financiada e desenvolvida pela Fundação Rockefeller, que foi o maior player internacional no campo da saúde pública no período entreguerras. O foco era a doença.
Mas há também uma antiga contratradição de medicina social, que remonta ao médico alemão Rudolf Virchow. Ele foi um veterano radical das revoluções de 1848 e é considerado o pai da patologia moderna. Essa tradição parte do princípio de que se deve atacar as condições sociais que levam enfermidades a se disseminarem, tornando-se tão mortais. Ele considerava coisas como vacinação e reforma agrária, oferta de assistência médica primária em favelas e áreas desfavorecidas, onde o maior problema era renda. Esse pensamento foi parte do Estado de Bem-Estar e da social-democracia europeia, embora tenha se desenvolvido politicamente de forma bem mais abrangente na América Latina. O fundador do Partido Socialista argentino era um patologista, e o Ministro da Saúde chileno no governo da Frente Popular de 1939 a 1942 era um jovem médico chamado Salvador Allende, que escreveu um par de artigos clássicos sobre medicina social. Isso era parte integral do programa deles.
O que vemos hoje é que as vacinas ganharam destaque. O grande debate agora é quando e se os países pobres vão conseguir receber alguma vacina. Contudo, ignora-se o estado desolador da saúde pública nesses países e as dramáticas condições sanitárias. Até nos países ricos, as vacinas acompanham o investimento e o desinvestimento em saúde pública. Na Grã Bretanha, é inequívoco o resultado de duas décadas de cortes de recursos pelos Tories e subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. Nos Estados Unidos, com certeza, paga-se duas vezes mais por saúde que no Canadá, embora algumas regiões do país ainda tenham padrões de saúde e mortalidade infantil equivalentes aos do Terceiro Mundo. A recessão de 2008 destruiu massivamente os serviços de saúde pública neste país e aqueles voltados para a camada da população mais pobre: cinquenta mil trabalhadores do setor da saúde pública foram demitidos, sem jamais terem sido substituídos. Os Estados Unidos se deparam com a crise da Covid-19 dispondo de um sistema médico oneroso e totalmente incapaz de responder a uma situação emergencial.
As instituições transnacionais e internacionais comprometidas com a saúde pública praticamente colapsaram com a pandemia. A OMS é uma concha vazia, tributária de um par de países, em particular a China e os Estados Unidos, da filantropia privada, especialmente a Fundação Gates, e das grandes empresas farmacêuticas. Esperava-se que a OMS liderasse a resposta global no combate à pandemia. De fato, existe um plano que define como tal resposta deve ser organizada, mas ele foi totalmente descumprido pelas nações. Veja o que fez a Europa. Cada país regula nacionalmente seu setor de saúde. Porém, a União Europeia tem uma convenção estipulando como enfrentar desastres naturais, tais como terremotos, e pandemias transnacionais. Durante os primeiros meses que se seguiram à explosão da Covid-19, a Itália reivindicou o estatuto dessa convenção e solicitou ajuda mútua de países como a França e a Alemanha. O que aconteceu? Os franceses logo fecharam suas fronteiras e guardaram para si todos os seus equipamentos médicos. Quase todos os outros países fizeram o mesmo. Os únicos que atenderam ao pedido da Itália foram os chineses. Eles enviaram aviões cargueiros lotados de material médico, enquanto os cubanos mandaram médicos. Diga-se de passagem que os cubanos acabam de retornar ao Sul da Itália porque o sistema de saúde de lá está tão inoperante que o governo da Sicília lançou um apelo desesperado poucas semanas atrás, ao qual os cubanos prontamente atenderam, como costumam fazer em qualquer lugar do planeta.
É importante retomar o debate fundamental sobre a natureza das doenças infecciosas. A última vitória alcançada pelos defensores da medicina social, apoiada pela União Soviética e por um conjunto de estados social-democratas, foi a Declaração de Alma-Alta, assinada no Cazaquistão, em 1979. Pela primeira vez, o documento da OMS incluiu atenção médica básica como um direito humano, o que, desde então, foi evidentemente ignorado. Uma das coisas mais deprimentes que ocorreu neste ano foi o fato de a campanha do Sanders, depois de ter feito da cobertura médica universal sua marca registrada, ter capitulado nas negociações com o grupo do Biden durante a convenção e aceitado apoiar o Obamacare como uma opção pública, justamente no momento em que o direito à saúde universal revela-se mais do que nunca uma questão de vida ou morte.
Em algum lugar aí está, creio, a resposta à questão do que deve acontecer com os regimes de saúde pública no âmbito internacional: no mínimo, algo como uma revitalização de um projeto social-democrata que englobe sistemas sociais de saúde. O problema, é claro, reside no fracasso contínuo das tentativas de recuperar esse projeto. Seu livro Prisoners of the American Dream [publicado originalmente em 1986] trata da incapacidade histórica dos trabalhadores americanos de conquistar representação política, e um dos temas do livro é o fracasso do movimento operário de fazer aliança com a luta negra, particularmente na segunda metade do século XX, o que compromete o campo mais amplo de contestação social e até o crescimento de um projeto eleitoral de esquerda apropriado, do tipo que poderia assegurar a saúde pública universal. Este ano vimos, quiçá, a maior insurreição popular na história dos Estados Unidos sob o lema Black Lives Matter, liderados por uma vanguarda negra e pobre a que se seguiram enormes protestos em massa e multirraciais, assim como a esperança — e o fracasso — da campanha de Sanders. O que você pensa sobre essa análise nas décadas que se passaram desde que você escreveu esse livro e à luz das eleições e dos movimentos sociais deste ano?
M.D. — Duas coisas mudaram drasticamente no movimento operário americano desde que escrevi o livro. A partir dos anos 1980, o centro de gravidade do movimento se deslocou dos sindicatos industriais e da produção em massa para a saúde, os funcionários públicos e a indústria de serviços. Isso levou ao surgimento de líderes de cor em todos esses sindicatos, o que de certa forma diminuiu a divisão histórica entre as lutas pela libertação dos negros e o movimento operário. Mas o sindicalismo no setor privado também foi totalmente arrasado, sendo hoje menos da metade do que era na década de 1980 — caiu para cerca de 7%. É uma longa história, e a questão racial é parte dela, desde o declínio dos Knights of Labor,9 no início da década de 1890, até a recusa dos trabalhadores brancos qualificados de se unirem aos imigrantes semi ou não qualificados. E não foram apenas os trabalhadores negros ou os ferroviários mexicanos, mas também os imigrantes do Sul e do Leste Europeu que serviram de combustível humano para o fordismo e a indústria moderna nos Estados Unidos.
Isso foi mais dramático durante os anos 1930, quando a AFL (American Federation of Labor) decidiu declarar guerra ao CIO (Congress of Industrial Organizations). Em toda grande cidade, havia duas federações trabalhistas em pé de guerra: uma mais inclusiva e progressista, impulsionada pela energia das bases; a outra representava os trabalhadores qualificados, e tinha geralmente um subtexto étnico ou racista. Fui testemunha disso há alguns anos em Los Angeles, onde a indústria aeroespacial se encontrava dividida entre os maquinistas e o UAW (United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America). Este era muito progressista, enquanto o sindicato dos maquinistas tinha uma herança conservadora das leis do Jim Crow. A incapacidade de chegar a qualquer unidade resultou da combinação de racismo com supremacia branca dentro dos sindicatos e, fundamentalmente, de divisões políticas e ideológicas profundas.
Quando dirigia caminhões, eu participava ativamente da base do movimento dos Teamsters (Irmandade Internacional dos Caminhoneiros) e assisti horrorizado ao apoio do sindicato ao Nixon e depois, em 1972, quando tentaram acabar com a greve dos trabalhadores agrícolas no vale de Coachella. E por todo um período histórico, os sindicatos, em vez de organizar seus novos integrantes, apenas pilhavam uns aos outros para arregimentar novos membros. Estamos hoje numa situação em que há uma tremenda energia para um sindicalismo dinâmico de luta de classes. Basta ver o sindicato das enfermeiras, o maior sindicato progressista do país e o principal a apoiar Bernie Sanders, e sua militância durante toda a pandemia sob condições cada vez mais difíceis.
Acho que o resto de nós tem culpa de não ter conseguido construir um movimento em solidariedade aos profissionais da saúde e aos trabalhadores essenciais, dos armazéns da Amazon às casas de repouso. Repetidamente, os trabalhadores de base nesses lugares fizeram greves e organizaram protestos, mas houve pouquíssima ressonância no movimento progressista mais amplo. O Black Lives Matter mostrou que precisamos ficar nas ruas e que é possível fazer isso com segurança durante a pandemia. Mas não fizemos isso pelos trabalhadores que têm de enfrentar os maiores riscos.
E que foram totalmente escanteados pelo Ministério do Trabalho de Trump…
M.D. — Este foi um dos maiores crimes do governo Trump. Foram milhares de reclamações à OHSA (Occcupational Safety and Health Administration), que não atendeu a nenhuma delas. A prioridade dos republicanos é dar imunidade à negligência criminosa na indústria das casas de repouso e hospitais. Em outras palavras, há uma ampla base material e política para um movimento de solidariedade ou de apoio, e isso não aconteceu.
Se aprendemos alguma coisa com tudo isso — uma lição amarga, creio, para tantos jovens — foi a limitação de uma estratégia “de dentro para fora”. O interior sempre absorve o exterior. Nunca há esse equilíbrio dialético em que campanhas políticas apoiam movimentos de fora e estes emprestam energia à campanha política. Desde março, basicamente, a base ativista do movimento por Sanders ficou órfã. Não fosse pela explosão do Black Lives Matter no verão, acho que uma profunda e contínua desmotivação política afetaria milhares de jovens.
Na nova extremidade das condições socioeconômicas, que lembram mais os anos 1930 que qualquer outro período, há milhões de pessoas por todo o país que são politicamente radicais. Há centenas e centenas de milhares em atividade nos últimos anos, mas parece que não há um ponto de Arquimedes para transformar isso num movimento mais unificado. E aqui volto aos problemas debatidos pelos bolcheviques no início do século XX. Não é possível contornar a necessidade de uma organização de organizadores que seja capaz de debater estratégias e táticas, e que seja unida pela ação. Não estou defendendo o centralismo democrático, mas o problema persiste. Há uma crise de proporções extremas e uma massa enorme de pessoas em movimento que busca formas de se envolver.
De modo que toda a atenção deveria se voltar ao espaço de trabalho e à comunidade na defesa contra o despejo, ao mesmo tempo em que levantamos demandas relacionadas à peste e à pandemia da fome que estão varrendo o país. Mas qual seria o pontapé inicial para isso? A resposta não pode vir de anciães como eu, que ainda vivem principalmente no século XX.
Este enigma atravessa o século XX e chega a este período intensamente disruptivo, que é a questão da formação de classe — esta seria uma das maneiras de formular o ponto de Arquimedes que você comentou — e que ocupou boa parte de seus escritos. Num ensaio sobre consciência de classe, você cita Geoff Eley,10 que afirma que as comunidades são tão importantes para a formação da consciência socialista quanto a fábrica. O que isso nos diz a respeito de um período em que as lutas se dão em frentes muito distintas de expropriação social?
M.D. — A observação de Eley é importante e destaca uma distinção crucial entre os trabalhadores radicais no fim do século XIX e no começo do século XX e depois: era muito comum tanto na Europa quanto nos Estados Unidos que os trabalhadores morassem num distrito adjacente à fábrica. Eles viviam em favelas industriais dentro da cidade ou na periferia, perto das fábricas. A vida doméstica e a reprodução social eram muito coladas às lutas dento das fábricas e vice-versa. Ao mesmo tempo, o mundo cultural na Europa não estava organizado pela produção capitalista, pela indústria das mercadorias ou do entretenimento. Os movimentos e sindicatos socialistas construíram mundos culturais próprios, com ricos universos associativos. É claro que ambas as coisas mudaram tempos depois — a comunidade residencial separou-se do local de trabalho e o lazer e a cultura foram colonizados por produtos comodificados de todos os tipos, produzidos em massa.
O enfraquecimento do elo ente a casa e o local de trabalho teve grandes consequências para o movimento operário que veio em seu ensejo. Mas algumas dessas perdas foram totalmente desnecessárias. Na década de 1920, havia uma guerra total neste país para determinar quem teria direito ao que chamaríamos hoje de banda larga. Quer dizer, quem teria uma licença de rádio, quem poderia transmitir até 50.000 watts. Em algumas ocasiões, os trabalhadores assumiram esse desafio. A Chicago Federation of Labor tinha uma estação de rádio muito poderosa, ouvida em boa parte do Meio-Oeste, que existiu por muitos anos. Mas, no fim das contas, os trabalhadores perderam sua presença no rádio enquanto as igrejas expandiram significativamente seu alcance. Isso é hoje o cerne do rádio de direita, que, aliás, é mais eficiente por causa dos congestionamentos no tráfego. Rush Limbaugh e outros falam com você enquanto você está se movimentando a cinco milhas por hora na estrada, no auge da irritação.
A abdicação da mídia, bem como o fracasso em criar ou em manter os poucos jornais diários de sindicatos ou de esquerda no país, foi uma derrota histórica desnecessária, diferentemente de outros países onde o movimento operário ou os partidos de esquerda se recusaram a ceder esse espaço.
Hoje, temos que imaginar novas formas de organizações sindicais locais. Há diversos caminhos ou formas de solidariedade entre trabalhadores em diferentes ofícios. Os sindicatos industriais, poderosos sindicatos especializados de alcance nacional, são um deles. Outro igualmente importante, cujo papel sempre foi subestimado, são as federações trabalhistas municipais e distritais.
Sua importância pode ser vista num lugar como Los Angeles, onde, começando com a ascensão de Justice for Janitors (zeladores, empregados da portaria), dos trabalhadores de hotéis e grandes membros locais do AFSCME (American Federation of State, County & Municipal Employees), a County Federation of Labor (federação de trabalhadores de condado) deixou de ser um grupo marginal ligado à ala conservadora do Partido Democrata para se tornar um verdadeiro centro de ativismo, criando seus próprios think tanks e lançando campanhas mais amplas por salários dignos. Tenho certeza de que os radicais lá dentro têm muitas críticas sobre o que está acontecendo exatamente. Mas isso mostra a importância de federações locais ou redes de atividades de organização. E não há motivo para que esses centros de organização não incluam formas de se organizar para além das atividades tradicionais dos sindicatos, tais como sindicatos de inquilinos, sindicatos de passageiros de ônibus, organizações de desempregados.
Você propôs uma espécie de sequência para Planet of Slums voltada para a questão da auto-organização e da luta dos trabalhadores no chamado setor informal, que corresponde à grande maioria da força de trabalho do sul global. Como seria esse livro?
M.D. — A pergunta que deveria ser feita é: onde a classe de trabalhadores informais, que frequentemente não passa de eufemismo para os atingidos pelo desemprego estrutural, encontraria poder social para combater suas condições? Minha ideia era abordar isso por meio de uma série de estudos de caso, mas logo descobri que existem duas realidades diferentes aqui. Na América Latina, há casos surpreendentes em que a militância operária tradicional da mina ou da fábrica foi transferida para comunidades de pobres. Penso no papel dos mineiros em El Alto, a grande cidade-favela gêmea de La Paz, na Bolívia, e dos piqueteros nas favelas de Buenos Aires.
Na América Latina, há uma divisão mínima dos pobres por questões identitárias de raça, de etnia. Em outras partes do mundo, a história é outra. O paradigma aqui parece ser Mumbai, onde já houve um movimento sindical unido e politicamente militante em suas enormes indústrias têxteis, e agora há uma massa no setor informal com um número muito limitado de maneiras de realmente ganhar a vida. No fim, as oportunidades são distribuídas com base na adesão a movimentos que se proclamam falantes da língua marata, ou hindus contra muçulmanos e assim por diante. Divisões semelhantes são visíveis em toda a África e no Sul da Ásia. Foram construídas máquinas políticas reacionárias e até neofascistas que usam a violência e o poder político local para controlar e regular a economia informal, recompensando seus membros e excluindo completamente os outros.
A experiência do socialismo revolucionário e do comunismo nas favelas também é instrutiva. Por exemplo, o Partido Comunista da Alemanha, de 1926 em diante, era basicamente um partido de desempregados. O partido da juventude da favela tornou-se ainda mais revolucionário. Isso se deu tanto por causa da situação econômica difícil da Alemanha, mas também porque os comunistas foram expulsos maciçamente das indústrias pelos social-democratas. Eles criaram fortalezas vermelhas em todas as grandes cidades. Há também a experiência no Peru de uma forte vida revolucionária nas favelas e em comunidades informais.
Temos que aceitar o fato de que existe hoje uma grande economia informal nos Estados Unidos. Também há muitos sindicatos e ativistas com propostas para organizar as pessoas e ativar a militância. Mas a questão que venho sempre levantando desde que comecei a escreves livros é: se você vai ter uma organização de organizadores, ela tem que refletir sua base social, a classe ou grupo que ela organiza e representa.
O problema com a esquerda nos Estados Unidos é que, embora haja zilhões de jovens militantes negros, latinos, filhos imigrantes de todos os tipos que estão por aí lutando, as organizações são em grande parte construídas por gente com diploma universitário, geralmente com alguma fonte de renda familiar para os apoiar. Agora, se você vai construir uma organização da classe trabalhadora, terá que lidar com a precariedade econômica das pessoas. É preciso criar nichos em que as pessoas, mesmo que com uma renda mínima de subsistência, possam trabalhar em tempo integral. Lenin, em O que fazer?, o mais incompreendido dos clássicos, enfatiza que seria um crime pegar um trabalhador avançado e deixá-lo apenas na linha de produção. Precisamos transformar as pessoas em revolucionários profissionais. Todo o programa de O que fazer? é recrutar trabalhadores e estudantes e transformar os estudantes basicamente em pessoas com visão de classe trabalhadora, e dar aos trabalhadores as ferramentas para o pensamento crítico e a liderança política.
Lembro-me dos dias do Student Nonviolent Coordinating Committee, que fez um trabalho surpreendente de recrutar pessoas da classe trabalhadora para um grupo inicialmente formado quase que apenas por estudantes universitários. E adotou o antigo princípio dos wobblies (membros da International Workers of the World) de que o trabalho de um bom militante é organizar-se fora do seu ambiente de trabalho. Ele é um facilitador da auto-organização das pessoas, não alguém que busca ascender na própria profissão a partir das lutas da base.
Estamos em um período estranho, entre um momento anterior representado pela campanha de Sanders, que estava basicamente concorrendo com uma plataforma que deveria ter sido adotada em 1948, e um novo período de luta de classes que podem ser muito mais selvagens e primitivas. Este período turbulento reinventa tudo. Mas também devemos reconhecer que, finalmente, a ideia do conflito final pode realmente estar se tornando realidade.
O terreno é tremendamente fértil lá fora, mas é preciso um arado para sulcá-lo. E o arado tem que ser, novamente, uma organização, um movimento que tem objetivos estratégicos sérios e políticas democráticas e orientadas para as bases.